
Na semana pré-Copa do Mundo tivemos uma breve polêmica depois que o nosso Gabigol participou de um coro de torcedores que defendia a tese de que o técnico da Seleção Brasileira deveria ir praticar coito em si mesmo, uma vez que o Gabigol não precisa dele.
No dia seguinte, tivemos as repercussões de praxe, várias condenações ao comportamento do jogador, alguns artigos até dizendo que “não vai à Copa por causa de atitudes como essa”. Veja: tal e qual no filme Minority Report, esse articulista levantou a tese do pré-crime: antes mesmo de Gabigol participar do coro, já foi devidamente punido com sua exclusão.
Leia do mesmo autor: O que nos une
O tema já foi devidamente abordado em brilhante artigo no Mundo Bola, mas eu queria pegar carona na iniciativa e comentar o que chamo de crise de representatividade no futebol brasileiro.
Desnecessário dizer que o tal texto “reprovando” Gabigol não merece nem mesmo ser contestado, e aviso de imediato que é a última vez que o menciono aqui. Prefiro tentar dar sequência ao que já foi publicado aqui no Mundo Bola, onde tenho o orgulho de escrever.
Antes de mais nada, é preciso analisar em termos semiológicos o que acontece com a imagem da camisa da Seleção Brasileira – e sabemos que a própria CBF e alguns patrocinadores estão bastante preocupados. Não preciso ser apoiador do presidente eleito para avaliar que o uso da camisa da Seleção para se opor a um determinado partido é uma espécie de “sequestro”. Aqui é interessante notar a relação tênue entre Governos e o Estado (este último, como um ente que transcende o tempo, tal como Pierre Bordieu o analisa em suas aulas registradas no livro Sobre o Estado).
Ao longo dos tempos, no Brasil, é comum ver governos tentando se tornar Estado. Lilia Schwarz, no excelente e recém-lançado livro O Sequestro da Independência, menciona a importação dos corpos de Pedro I e Dona Leopoldina quando o regime militar quis celebrar o sesquicentenário do Sete de Setembro em 1972. Faz importante paralelo com o atual e deseleito governo, que trouxe o coração do imperador para a festa. A data vai se distanciando assim do povo e se aproximando dos dirigentes, vai abandonando o perene e abraçando o transitório.
Quando as manifestações contra o então governo Dilma, que cometeu erros incríveis com sua Nova Matriz Econômica, atingiram o ápice, a camisa da Seleção ganhou as ruas. Em tese, se opunha ali o verde e amarelo ao vermelho do partido que governava, o vermelho “estrangeiro” do socialismo contra o “verde das nossas matas” e o “amarelo do nosso ouro”. Ninguém quer saber nessa hora que na verdade são as cores dos Bragança e dos Habsburgo. A narrativa substitui o real, sempre, pois a realidade não tem tanta graça e não motiva tanto.
Desta forma, a partir dos protestos anti-PT que englobavam várias tendências (até mesmo de esquerda), as coisas se afunilaram até a camisa da Seleção se tornar panfleto de um só candidato, aquele que absorveu todo o antipetismo da época – menos pela força do discurso, mais pela total ausência de uma liderança mais efetiva.
Pode-se dizer o óbvio, e o leitor evidentemente não entendeu por que levei tantos parágrafos para escrevê-lo: o presidente tomou para si a camisa da Seleção, usou-a para identificar seu eleitor, assim como em uma época mais distante o lenço vermelho identificava os brizolistas.
É claro que todos sabemos que a preferência política do Tite é outra – mas isso de nada adianta. Temos uma guerra civil não declarada e não exercida no país, e apenas um dos lados usa a Amarelinha. O canarinho pistola pode ter um fuzil. Nesse cenário, a camisa da Seleção deixa o universo do simples futebol (que, claro, não é nada simples) e passa a habitar a vida mundana, apolínea, da qual Gabigol e seus arroubos efetivamente não faz parte.
Leia também: Renato Veltri: Ei, CBF, o Gabigol não precisa de você
Apelo aqui para o brilhante professor Alceste Pinheiro, de quem não sou amigo, mas fui aluno – na primeira aula de Jornalismo Esportivo ele expôs o problema: somos Baco, Dionísio, e a Europa é Apolo. Somos por definição, por Código Cultural e Identidade, um povo delirante, inebriado, dionisíaco, e sempre vencemos pelo drible, pela malandragem, pelo carnaval. Quando a amarelinha de Didi, Gérson, Garrincha e Jairzinho foi adotada pelos manifestantes, passou a coexistir em um mundo no qual ela não deveria nem mesmo ser identificada.
Sim, eu sei que o futebol mudou e os jogadores hoje são TODOS apolíneos, todos são atletas de alto rendimento, todos precisam estar em forma. Mas a nossa forma latina de encarar uma Copa – risos, lágrimas, xingamentos, loucura – continua a mesma. Continua?
E aqui chegamos ao ponto: nada e nem ninguém consegue sequestrar o Manto Sagrado Rubro-Negro. A identidade Flamenga não se perdeu nem mesmo quando Rodrigo Alvim cruzava para Dênis Marques ou Magal cruzava para Marcos Denner. O que os analistas deveriam ter olhado primeiro é para a atitude da torcida e não do Gabigol.
É uma atitude diferente dos tempos em que nos orgulhávamos de ver Zico, Júnior e Leandro brilhando na Seleção. Para a Magnética, viver em “splendid isolation” (termo da diplomacia britânica no início do século 20) está tudo bem. Poderíamos jogar apenas o Estadual todos os anos, que tanto torcida quanto ídolos seriam eternamente felizes.
O amigo leitor, se é que continua por aqui, vai certamente me dizer que este é apenas um texto que fala sobre o quanto os clubes são mais queridos que a Seleção hoje em dia. Sim, corro o risco de parecer ser óbvio – afinal, não é mais o Falcão do Inter, o Éder do Galo, o Oscar do São Paulo, o Zico do Flamengo, o Sócrates do Corinthians que estão ali.
Temos hoje grandes jogadores, preparados, adaptados para jogar num cenário apolíneo. Até para vencer. Mas talvez a última cena dionisíaca de nossa Seleção tenha sido o Vampeta rolando pela escada do Palácio do Planalto – de lá para cá, o que temos é a postura da Corte.
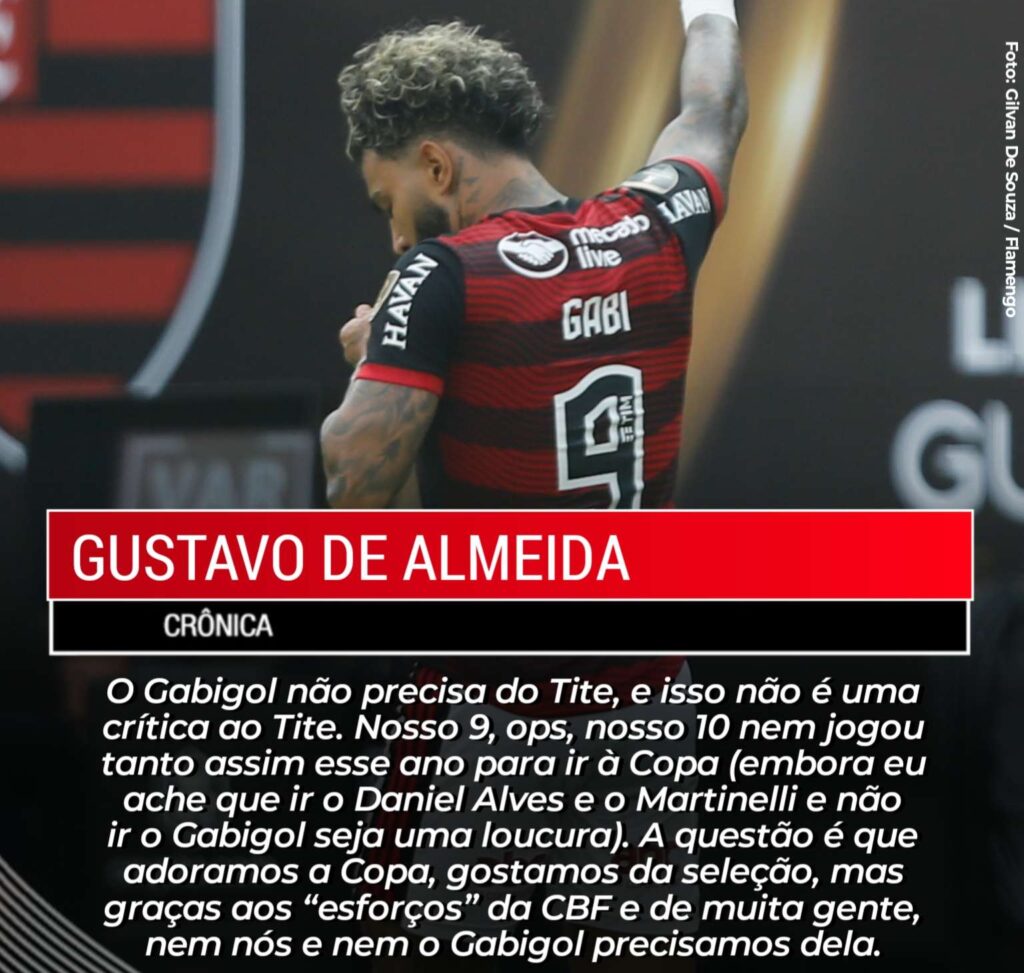
Confira também: Gabigol relata momento com pai em sua não convocação para Copa do Mundo
A questão é exatamente essa: o Gabigol não precisa mesmo da Seleção, e isso é muito grave. Uma eventual conquista do Hexa será comemorada, claro, mas o que seria isso diante de um eventual mundial do Flamengo com gol de Gabigol em cima do Real Madrid? Será hoje em dia a mais esquecível das conquistas, pois carregada por uma camisa que se distanciou da população.
E aqui não se trata de crítica, e sim de constatação: é uma camisa que passou a ser usada para outro fim, para um simulacro de identidade nacionalista – e podem ter certeza de que eu faria a mesma crítica, independente de quem fosse o candidato de um ou de outro. Não, aqui não falo de eleição. Falo de identidade nacional. Um Gabigol virado, bêbado, vindo do show da Ludmilla e virando cerveja ao lado do louco Vidal é absolutamente mais brasileiro do que os eternos pagodes forçados das seleções brasileiras de décadas para cá.
O Gabigol não precisa do Tite, e isso não é uma crítica ao Tite. Nosso 9, ops, nosso 10 nem jogou tanto assim esse ano para ir à Copa (embora eu ache que ir o Daniel Alves e o Martinelli e não ir o Gabigol seja uma loucura). A questão é que adoramos a Copa, gostamos da Seleção, mas graças aos “esforços” da CBF e de muita gente, nem nós e nem o Gabigol precisamos dela.
E o que fazer para remediar isso, para consertar isso? Não sei. A questão é complexa e que passa muito além da falsa intenção de “só convocar quem joga no Brasil”. Não se trata disso. Identidade se constrói com gestos, atitudes, proximidades, similaridades.
Se querem entender melhor, acompanhem o Flamengo. Dele, Flamengo, todos nós precisamos – eu, você, o Gabigol e, me arrisco a dizer, o Brasil inteiro.
Gustavo de Almeida é jornalista, roteirista do filme INTERVENÇÃO. Siga no Instagram: @gustavodealmeida68.
















